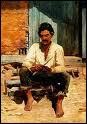“Metodologia” é um termo da língua
portuguesa que vem da confluência de três termos gregos:
Metodologia:
|
Meta
Odos
Logos
|
-
-
-
|
“ao largo”, “além”;
“caminho”;
“discurso”, “estudo”.
|
Metodologia
é o discurso acerca do caminho a se trilhar para se alcançar o
que se encontra além ou adiante.
Noutros termos, é ela a explicitação antecipada das regras ou dos procedimentos
a se observar para se atingir determinados objetivos. Por ela percorre-se
idealmente o caminho que se quer realizar a seguir e, neste sentido, ela se
impõe como “bússola” imprescindível de toda e qualquer atividade científica, a
fim de que não nos percamos no decorrer desta mesma atividade.
Idealização para
realização, a metodologia não se reduz a uma preocupação com o método, mas se completa numa igual
preocupação técnica.
“Técnica”, também de etimologia
grega, significa “instrumento”. E como nenhum instrumento tem um fim em
si mesmo, também aqui é a técnica
científica o meio através do qual transpomo-nos do ideal para o real: no
desenvolvimento de um projeto de pesquisa, do que se tem apenas por hipótese ao
que se é; no desenvolvimento de um projeto de trabalho, do que se deve ser ao
que de fato se realiza.
Quanto à questão
dos métodos, os mais conhecidos são o indutivo
e o dedutivo.
“Indução” é o movimento [“inferência”
(passagem ou trânsito de um a outro)] que se faz de casos particulares a uma
afirmação geral ou universal:
O
bronze, quando aquecido, dilata-se;
O
níquel, quando aquecido, dilata-se;
O
ferro, quando aquecido, dilata-se; .
Logo: Todo metal, quando aquecido, dilata-se.
“Dedução” é o movimento (inferência) que
se faz de uma afirmação geral ou universal ao(s) caso(s) particular(es):
Todo
metal, quando aquecido, dilata-se;
A
prata é metal; .
Logo: A prata, quando aquecida, dilata-se.
Mais adiante,
veremos as relações possíveis ou não entre esses dois métodos básicos. Contudo
já podemos adiantar que, atualmente, reconhece-se o uso de ambos na atividade
científica, mas com diferentes ênfases em momentos bem distintos. Embora
logicamente excludentes, seriam eles, nas diversas etapas do labor científico,
complementares. Além disso, o domínio da compreensão de ambos é condição sine qua non para a compreensão de
métodos outros mais refinados como o histórico ou genético, o sincrônico ou
estrutural, o fenomenológico, o dialético (...) e de todo o debate que se
construiu sobre a pretensão “explicativa” das Ciências da Natureza e a
“compreensiva” das Ciências Humanas.
Sumamente, o
objetivo último de toda Ciência, como seu próprio nome já nos revela, é tomar ciência, é conhecer. Por isso, toda
Ciência implica projetos de pesquisa.
E, uma vez realizada a própria pesquisa e o conhecimento de seu assunto
proposto, espera-se ser possível a intervenção
nessa realidade que se conhece, seja para mantê-la tal e qual, parcial ou
totalmente, seja para transformá-la em algum de seus aspectos ou completamente,
o que, por seu turno, faz com que a Ciência também se desdobre como projetos de trabalho. Deve-se
destacar que a intervenção ou manipulação da realidade é uma
característica predominante e distintiva do que os primeiros modernos chamaram
de “Nova Ciência” ou do que nós contemporaneamente chamamos de “Ciência
Moderna”, porquanto, entre os antigos e medievais, predominava a concepção
segundo a qual já viveríamos no “melhor dos mundos possíveis” e que, assim
sendo, qualquer mudança humanamente ensejada nesse mesmo mundo só poderia ser
inevitavelmente para piorá-lo. Assim, a Ciência destes traduzia-se num
conhecimento “desinteressado”, num “conhecer por conhecer”, num conhecimento
estritamente contemplativo.
Tendo, pois,
como pano-de-fundo, a “Ciência Moderna”, podemos delinear o seguinte esquema:
Projeto de Pesquisa
↓
Pesquisa
↓
Análise e interpretação dos dados obtidos
(Conhecimento)
Monografia
↓
Projeto de trabalho
↓
Intervenção
Tal esquema
explicita, pois, que nenhuma intervenção responsável e satisfatória se faz
sobre aquilo do qual não se tem um prévio conhecimento; que toda e qualquer
ação humana só é possível à luz de uma concepção da realidade na qual se age;
que tanto mais se obtém o que se quer por essa ação quanto mais dela se tem uma
representação adequada. Dito de outra forma ainda, uma justa intervenção
somente se realiza, em primeira ou em última instância, sobre o amparo de um
projeto de pesquisa bem elaborado e que garanta, antes mesmo da intervenção,
uma pesquisa bem desenvolvida, que redundará necessariamente num conhecimento,
que então há de balizar a nossa proposta de trabalho e intervenção, enfim.
Todavia, todas
estas preocupações, como até aqui foram definidas, não perturbam, obviamente,
todos os homens – pelo menos não do mesmo modo e em mesmo grau. Pertencem, sim,
a alguns homens que exatamente por isso se tornam iguais entre si, uma mesma unidade, por assim dizer, em torno
destas preocupações que têm em comum.
Esta “comum-unidade” é a dos
cientistas, que sustentam os preceitos científicos em voga, a denominada
“ciência normal”. Segundo KUHN (1995: 219), “uma comunidade científica consiste em homens que partilham um paradigma”.
Assim, todo procedimento investigativo que foge a tais preceitos é considerado
como “pseudo-ciência”: pode ser mito, religião, filosofia ou arte, mas não
ciência. Portanto, quem deseja participar dessa comunidade científica ou por ela ser reconhecido só o poderá
submetendo-se aos seus preceitos de pesquisa e exposição. Por este prisma, as
academias são os meios pelos quais conformamos os nossos sentidos e mentes a
perceberem e pensarem o mundo de um modo: o modo científico.
Se, por um lado,
é a comunidade científica que
sustenta o paradigma, é este que sustenta, por outro lado, a comunidade científica. Nas palavras de
KUHN (1995: 219), paradigma “é aquilo que
os membros de uma comunidade partilham e, inversamente, [como já acima
transcrevemos] uma comunidade científica
consiste em homens que partilham um paradigma. Entretanto, também a ciência
tem a sua história. E esta não se faz apenas pela acumulação de novas
descobertas que foram sendo feitas à luz dos mesmos procedimentos
metodológicos, mas sobretudo pelas contradições entre tais procedimentos ou por
rupturas paradigmáticas. Assim, os chamados de “charlatões” pela comunidade científica atual podem se
tornar os cientistas do amanhã, do mesmo modo que a “ciência normal” hodierna
foi condenada como “pseudociência” no passado. Foi tal observação que permitiu
ao mesmo KUHN (1995: 13) escrever que paradigma são “realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante
algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de
praticantes de uma ciência” (Grifos nossos).
Paul Feyerabend
levará estas considerações às suas últimas conseqüências. Como o título de sua
obra mais famosa, Contra o método, já
nos permite entrever, Feyerabend se contrapõe a todo método que se arrogue
absoluto, defendendo que este deve ser fruto da escolha de cada grupo de
pesquisadores, pelo que cada qual julgue estar mais em conformidade para o
estudo do objeto de seu interesse naquele momento. Em seus próprios termos,
FEYERABEND (1993: 324 e 325) escreve que “a
ciência é aquilo que eu faço e aquilo que os meus colegas fazem e aquilo que os
meus pares, eu e o público globalmente considerado, temos por ‘científico’”;
“não existe um ‘método científico’
uniforme”.
Apesar disso,
conduzir-se à luz desse anarquismo metodológico ainda mantém-se controverso e,
inevitavelmente, já daria sobrenome próprio a uma comunidade científica
dentro da comunidade científica maior. Quem, pois, ainda pretende participar d’a
comunidade científica (em seu sentido mais largo e dominante, pois) e
por ela ser reconhecido não pode deixar de adequar-se aos seus ditados
metodológicos. Só devemos ainda acentuar que esta característica não é
característica distintiva da comunidade científica, mas de toda e
qualquer instituição social. Também não é justo ver nesses imperativos somente
e tão-somente um cerceamento da liberdade criativa.
Para
convencermo-nos de que não há teoria desarraigada das concretas condições da
vida humana, urge entendermos os motivos pelos quais os homens sempre buscaram
a mais fidedigna representação do mundo, isto é, o conhecimento.
O que
denominamos ecossistema pode oferecer-nos uma satisfatória ilustração da
estreitíssima ligação entre os elementos que compõem a natureza: a cadeia
alimentar mostra-nos, mais especificamente, o quanto os animais estão
integrados à natureza. Eles não apenas habitam-na, mas também neles a natureza
como que faz-se hóspede permanente, sob a forma do que, num só termo, chamamos
de instinto. Assim, nunca saem eles da natureza, nem mesmo dela se afastam,
porque, antes, esta já se faz completamente neles. Costumamos, por isto, dizer,
como ilustração, que tanto aquele joão-de-barro, que viveu há mais de dez anos,
quanto este, que ora nasce, têm a mesma natureza, não se distinguindo um do
outro rigorosamente: não possuem individualidade (ou distinção formal), mas são
simples e semelhantes amostras de uma mesma espécie. Ter as condições para
gerar seus filhotes, por exemplo, não lhes é problema, posto que a natureza
(neles) já os move igualmente na construção de seus ninhos, em nada diferentes
uns dos outros. Sem que percebam, a natureza lhes determina em todos os seus
atos, conformando-os entre si e com as demais espécies. Cada parte constitutiva
da natureza parece assim estar totalmente integrada às suas demais partes. Toda
a multiplicidade em movimento expressa-se, enfim, como uma unidade coesa e
ordeira (como um verdadeiro sistema).
De tal coesão,
todavia, cada ser humano parece estranhamente escapar em notória medida.
Falta-lhe muitos dos instintos animais, embora seja ele qualificado como um
animal. Indubitavelmente, não teria ele, por esta ausência, sobrevivido por
longo tempo. Contudo, algo nele se desenvolveu para mais do que compensar-lhe
tal falta, algo que chamamos genericamente de razão. É certamente ele um
animal, mas um animal sui generis: um
zoon logikon, como bem expressou, já
na antigüidade ocidental, o pensador grego Aristóteles. Esta diferença o faz paradoxal
quanto ao que afirmamos acima acerca dos demais elementos constitutivos da
natureza, pois ao mesmo tempo em que o homem a esta pertence e dela depende,
dela tem a capacidade de transcender-se a si mesma. Estranhamente, o homem é a
parte da natureza que dela se afasta, reconhecendo-a, assim, como se fosse alguma coisa outra; por ele, a natureza
como que verdadeiramente se desdobra,
torna-se para si, consciência de si. Nisto pode resumir-se
todos os mistérios da vida, pois somente por tal acontecimento tudo tornou-se
passível de crítica ou problematização. Desta maneira, ocorreu
o rompimento da original unidade da natureza.
Recuperar a
unidade original da natureza tornou-se o desafio de sobrevivência ao próprio
homem. Sem instintos que lhe conformassem satisfatoriamente ao seu meio, tudo
imediatamente aparecia-lhe caótico e arbitrário, o que sobre ele retroagia sob
a forma do sentimento de insegurança. Sem reconhecer instintivamente o devido
lugar de cada coisa, não podia também o homem posicionar-se adequadamente a si
próprio na natureza. Logo, apesar de tudo imediatamente lhe parecer arbitrário
num mundo em incessante mudança, começou, pouco a pouco, a reconhecer sutis
constâncias nos próprios movimentos, como, por exemplo, nas estações
climáticas, vegetativas e de migração de alguns animais, reconhecimento
decisivo para que ele pudesse imaginá-lo estendido a tudo o mais, numa feliz
recuperação da unidade coesa e ordeira de todas as coisas. Tal necessidade de
se considerar a imutabilidade ou uma constante por detrás de todo movimento
aparente foi muito claramente denunciada por outro filósofo da antigüidade
clássica grega, chamado Platão: se toda a multiplicidade com a qual nos
deparamos estiver em completa mudança, toda possibilidade de conhecimento humano
do mundo estará inevitavelmente fadada ao fracasso, pois tão logo venhamos a
dizer o que alguma coisa é, ela já se terá tornado outra coisa. Concluiu,
portanto, ele, que o mutável jamais poderia ser conhecido por si mesmo, senão
somente e tão-somente por outra coisa que fosse permanente e do qual cada coisa
da realidade mutável não passasse de simples reflexo possível dentre outros
mais. Enfim, toda aparente multiplicidade que compõe o mundo em movimento
poderia ser reduzida a uma unidade imutável ou sistema perfeitamente acabado.
Desde antes de Socrátes, como em pensadores denominados “físicos” ou
“fisiólogos”, o discurso racional ou filosófico tem, fundamentalmente, esta
pretensão: alcançar e dizer, a partir dessa unidade-causal (arqué) – portanto primeira na hierarquia
dos seres –, todos os seus diversos efeitos que constituem a realidade ou
natureza (physis). Obviamente, desde
os pensadores sofistas e de Sócrates, também o mundo humano, a psiqué e a cultura, fazem parte dessa
realidade totalizante, o existente ou o Ser. Todos os sociólogos, por exemplo,
confessamente ou não, trabalham com um modelo ou sistema de realidade social:
Émile Durkheim indiscutivelmente; Max Weber, através de seus quadros
tipológicos ideais; Karl Marx, ao adotar o materialismo histórico e dialético,
o que lhe permitiu prever a necessária derrocada, mais cedo ou mais tarde, do
atual modo de produção capitalista. Como as inumeráveis seqüências de
movimentos possíveis num jogo de xadrez, por exemplo, podem ser dominadas por todo
aquele que bem conhece as suas limitadas regras e peças ou como toda a
infinita realidade material pode ser reduzida a uns poucos elementos que
perfilam a tabela periódica físico-química e suas finitas combinações
numéricas, sempre dependerá o conhecimento humano da construção desses
“microcosmos mentais ou ideais” para dominar o “macrocosmos” no qual se insere,
antecipando os acontecimentos ao antevê-los logicamente, isto é, em
conformidade com os seus modelos teóricos.
“Teorias” são
assim esses modelos ou “microcosmos mentais ou ideais”. Etimologicamente,
significam “ver” ou “contemplar”, mas não com os olhos do corpo, que só nos
fornecem a multiplicidade instável e caótica das particularidades do mundo, mas
com os olhos do espírito ou da mente
(eidos, de onde vem o termo “idéia”),
que nos podem fornecer, por sua vez, a unidade imutável de conceitos
(universais e necessários), isto é, imperativos ontem, hoje e sempre (a crença
de que o futuro há de se dar tal e qual o passado, segundo denunciou-nos David
Hume).
Seguramente, só
conhecemos a partir desses “modelos” que se querem perfeitos e que trazemos
previamente conosco (“pré-conceitos” – na sua acepção não pejorativa), à luz
dos quais organizamos as nossas experiências do mundo, ajuizando-nos sobre elas
(dizendo se isto é ou não é aquilo, se aquilo é ou não
é esse outro ainda e, assim, sucessivamente, interligando as diversas
particularidades de nossas sensações e percepções numa unidade compreensiva).
Daí também toda as expectativas que em nós alimentamos. É, pois, um equívoco
considerar que o conhecimento implica num sujeito tabula rasa, completamente neutro e imparcial. Toda experiência
primeira de uma dada realidade vem-nos como caos, ou seja, apenas fornece-nos o
problema de nossas pesquisas, mas não a sua solução – pois não se adequam
prontamente aos nossos atuais esquemas mentais. E, para a surpresa de muitos,
urge destacar que até pensadores como Auguste Comte, que muitos reconhecem como
o pai da corrente teórica à qual comumente se atribui a pretensão de um sujeito
do conhecimento tabula rasa – o
positivismo –, não admitem sequer qualquer tipo de experiência àquele que já
não trás consigo qualquer tipo de concepção de mundo ou cosmovisão:
Todos os bons espíritos
repetem, desde Bacon, que somente são reais os fatos que repousam sobre os
fatos observados. Essa máxima fundamental é evidentemente incontestável, se for
aplicada, como convém, ao espírito viril de nossa inteligência, Mas,
reportando-se à formação de nossos conhecimentos, não é mesmos certo que o
espírito humano, em seu estado primitivo, não podia nem devia pensar assim.
Pois, se de um lado toda teoria positiva deve necessariamente fundar-se sobre
observações, é igualmente perceptível, de outro, que, para entregar-se à
observação, nosso espírito precisa de uma teoria qualquer. Se, contemplando os
fenômenos, não os vinculássemos de imediato a algum princípio, não apenas nos
seria impossível combinar essas observações isoladas e, por conseguinte, tirar
daí algum fruto, mas seríamos inteiramente incapazes de retê-los; no mais das
vezes, os fatos passariam despercebidos aos nossos olhos. (COMTE, 1988: 5).
Obviamente que
tal concepção de realidade, que antecede a toda experiência, não possui o selo
da cientificidade, também segundo Comte, mas advém de concepções puramente
imaginárias (como as “teologias” e as “metafísicas”), que desprezam, por
princípio, a experiência do mundo no qual estamos; advém do que hodiernamente
chamamos, em síntese, de senso comum.
Daí a contribuição deste dentro do processo científico: a solução dos problemas
que a experiência primeira de uma dada realidade nos trás é sugerida pela
imaginação humana socialmente cristalizada, ou seja, pelo senso comum, sob a forma de hipóteses (de micro-sistemas ideais),
que suspeita-se poderem dar conta de organizar o “caos primitivo”,
transformando-o em cosmos (complexo inteligível). Ora, mas nem tudo o que é
imaginado corresponde à realidade. Por isso, a necessidade de confrontar as
hipóteses com a experimentação. Experimentação implica em experiências
sistematizadas e controladas segundo o problema delimitado. E é isto o que o
processo científico faz, distinguindo-se, desta maneira, das outras formas de
compreensão e expressão de mundo e inclusive do senso comum.
Contra a
possibilidade de um conhecimento totalmente a
posteriori, Immanuel Kant escreveu que “o conhecimento começa com a
experiência [definição do problema], mas nem todo ele advém da experiência”. E,
mais atualmente, Karl Popper insistiu na ausência de solidez lógica da pura
inferência indutiva, posto que a passagem da observação de um número sempre
limitado de casos particulares (ainda que elevadíssimo e sem exceções) a uma
conclusão universal é impossível dentro dos limites da pura experiência: como é
possível que da observação de alguns
casos particulares, podemos afirmar todos?
Uma vez que se considera a impossibilidade deste todos, que tem por característica a universalidade e a
necessidade (a imutabilidade no tempo e no espaço), advir da experiência do
mundo, torna-se forçoso admiti-lo como fruto de uma capacidade a priori do ser humano, de sua razão.
Para uma melhor
visualização destas últimas considerações, podemos apresentar o seguinte
esquema do processo científico em geral, sem nos esquecer, todavia, que todo esquema
ou generalidade somente cumpre suas finalidades em momentos bastante precisos,
quando se quer e se sabe que se quer, por ora, abstrair-se das características
distintivas do que se está em questão.
(I)
Experiência
↓
(II)
Hipóteses
(III)
↓
Declinação lógica das consequências
particulares de cada hipótese
↓
(IV)
Experimentação
↓
(V)
Comparação de III e
IV
↓
(VI)
Teoria
(I)
A experiência primeira de uma dada
realidade, como acima já dissemos, coloca-nos problemas, mas não a solução das
mesmas. Todavia, a definição do problema do qual se tem a experiência, já
pressupõe uma visão de mundo. Além de Comte, também Weber assim considera,
afirmando que a delimitação do problema que se escolhe pesquisar dá-se em
conformidade com os nossos prévios valores.
As hipóteses são tentativas de resolução do
problema posto. Tem por característica a generalidade: todo e qualquer problema
de mesmo tipo deverá ser solucionado do mesmo modo. Portanto, elas já expressam
o princípio universal de todo conhecimento, que lhe assegura a capacidade de
previsibilidade. Se partimos, por exemplo, do princípio particular de que alguns homens são mortais, não
podemos garantir daí que o leitor, embora homem, também seja mortal. Isto
somente há de se dar partindo-se do princípio universal de que todos os homens são mortais.
Todavia, não obstante assim consideremos, tal universalidade não pode-se
considerar advinda da experiência, visto que esta só nos fornece a intuição
sensível de alguns homens e não de todos, como outrora insistimos. É, portanto,
por princípio, uma construção da nossa imaginação.
De cada hipótese
deve-se desdobrar todas as suas conseqüências lógicas: se é X (primeira hipótese), como imaginamos, então tem-se y, t, s,
w e z, pois estes são efeitos necessários daquele; se é R (segunda hipótese), como
também se imagina, então
tem-se y, k, w, o e z; se é...
A experimentação importa num rigor que,
indiscutivelmente, as nossas experiências cotidianas não têm. Nela, só as
experiências que possam falsificar as hipóteses levantadas têm relevância. Não
comporta, então, interesses empíricos alheios ao problema que se delimitou.
A comparação entre os efeitos particulares
necessariamente declinados de cada hipótese e os resultados particulares
colhidos na experimentação definirá a credibilidade de cada uma das hipóteses
sugeridas e, evidentemente, aquela que mais coincidências apresentou entre suas
conseqüências lógicas particulares e os dados afins sistematicamente observados
abandonará a sua então condição de mera hipótese dentre outras mais para
figurar-se como tese ou teoria.
A sustentabilidade de uma teoria só se esgota através do surgimento de uma ulterior hipótese
que apresente um poder de antecipação ou previsão dos mesmos movimentos que os
seus e de outro(s) mais ou ainda de uma que, apresentando menor complexidade,
garanta uma capacidade de antecipação dos seus mesmos acontecimentos (segundo o
princípio medieval denominado “navalha de Ockam”: entre duas teorias de igual
poder de reconstituição de um mesmo fenômeno, deve-se optar pela mais simples).
Podemos dizer que existem, basicamente, três tipos de
pesquisa: a bibliográfica (ou “estritamente teórica”), a de campo e a de
laboratório (experimental). Este último interessa muito pouco a nós das
Ciências Humanas. No entanto, podemos subdividir o segundo em estudo
teórico-empírico e estudo de caso.
COMTE, Auguste. Curso
de filosofia positiva. Tradução de José Arthur Giannotti. 4. ed. São Paulo:
Nova Cultural, 1988.
FEYERABEND,
Paul. Contra o método. Tradução de
José Serras Pereira. Lisboa: Relógio d´Água, 1993.
KUHN, Thomas. A
estrutura das revoluções científicas. Tradução de Beatriz Boeira e Nelson
Boeira. 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 1995.