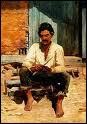Rodrigo Rodrigues Alvim
Historicamente, a filosofia ocidental
foi, pouco a pouco e de um modo geral, perdendo o seu otimismo relativamente à
identidade entre o ser e o pensar. A razão foi perdendo o seu lastro com a
realidade e frisar isto se tornou para muitos condição de possibilidade para
obter as credenciais de crítico. A própria razão entrou, assim, em crise,
tornando-se autofágica. Não há mais uma instância última racional, mas
instâncias imediatas de razões, multiplicadas em pretensas unidades
incomensuráveis entre si. Não há mais a lógica como antes se acreditava, mas
sistemas lógicos ou logísticas. As distinções entre o real e o virtual estão
cada vez mais embotadas. É disto que este texto trata (*).
01. Podemos perceber que, para
Jacques Maritain, é sumamente importante à Filosofia manter intacto o vínculo
da Lógica com a Metafísica (1) (ou, em termos mais largos, do pensamento com a
existência).
02. Particularmente, isto se
revela nas suas considerações acerca da “extensão” e da “compreensão” dos
termos das proposições constituintes dos silogismos categóricos: “os antigos
não eram nem exclusivamente ‘extensivistas’ nem exclusivamente
‘compreensivistas’” (2).
03. Por isto mesmo, tal consideração lógica só se faz mais
clara ao fundo de suas posições metafísicas. Faço alusão à “Questão dos
Universais” que, embora marcante na baixa Idade Média, respeita o intento deste
filósofo de fazer o pensamento de Tomás de Aquino dialogar com a “modernidade”
ou, melhor, com a contemporaneidade.
04. Como classicamente se expõe,
também para Maritain a “Querela dos Universais” se radicaliza por dois grupos
de filósofos, um denominado “realista” e outro denominado “nominalista”.
05. Basicamente, para os
“realistas”, os “universais” são reais. Portanto, nas palavras de Maritain,
defendem que “aquilo que nossas idéias nos apresentam sob um estado
universal existe na realidade sob um estado universal” (3).
06. Ao contrário, para os
“nominalistas”, os “universais” são apenas “nomes”. Logo, como nos escreve
Maritain, defendem que “aquilo que nossas
idéias nos apresentam sob um estado universal não existe absolutamente na
realidade” (4).
07. Assim, podemos entrever uma
simetria entre estas vertentes “metafísicas” e as exclusividades dos pontos de
vista “lógicos” da “extensão” e da “compreensão”, mais acima referidos.
08. Como a “modernidade” é
marcada por uma crise da metafísica, ou seja, da aceitabilidade da existência per
se de “entidades metafísicas”, tal simetria pende atual e crescentemente
para o lado dos “nominalistas”, que modernamente adquiriram outros nomes:
empiristas ou neo-empiristas, positivistas ou neopositivistas e outros mais.
09. Na concepção dos
“neotomistas” (dentre estes, pois, também Maritain), a obra de Tomás de Aquino
(pela qual o pensamento aristotélico se conforma à mensagem cristã) pode ser
avaliada como de cunho “
moderado” (5) dentro deste debate entre
“realistas” e “nominalistas”, porque, pretensamente calcado em Aristóteles de
Estagira, não poderia negar a “realidade” dos “universais” em detrimento da
“realidade” dos “individuais” ou vice-versa. Noutros termos, a obra de Tomás de
Aquino admite, embora não simplesmente, tanto as observações do “realismo
absoluto” quanto às do “nominalismo”, considerando-os, desta maneira, extremistas
exclusivistas e, como tais, insustentáveis. Desde então, surge entre estes o
que se chamou de “realismo moderado”.
10. Na
expressão do próprio Maritain, o “realismo moderado” de Aristóteles e Tomás de
Aquino contempla tanto o “nominalismo” quanto o “realismo” ao defender,
respectivamente, que “aquilo que nossas idéias nos apresentam sob estado
universal NÃO
EXISTE fora do espírito sob este estado de universalidade, [mas] EXISTE fora do
espírito sob estado de individualidade” (6).
11. Tendo tudo isto como pano de
fundo, penso podermos melhor entender os ensinamentos da lógica propostos por
Maritain, quando afirma que, “realmente, se a lógica aristotélica guardou a
justa medida [entre a importância de se atentar para a “extensão” e a
“compreensão” dos termos das proposições categóricas], a ‘lógica clássica’
entre os modernos, sobretudo após Leibniz, parece muito bem se haver alterado
sob preocupações exclusivamente extensivistas” (7). Sendo assim, estes
“modernos” reafirmam-se “nominalistas”.
12. Ora, quais seriam as
conseqüências desta exclusividade?
13. Partindo da posição dos
“nominalistas” frente aos “universais”, os “conceitos” perdem completamente sua
força de realidade. No campo da Lógica Menor (formal), isto se traduziu, por um
lado, na abstenção crescente com o cuidado dos termos das proposições
constitutivos dos silogismos categóricos do ponto de vista da “compreensão” (de
suporte metafísico) e paradoxalmente, por outro lado, abriu condições para a
construção de “sistemas” completamente alheios à sua fundamentação empírica
(que nos reporta ao campo da Lógica Maior – material – , da Teoria do
Conhecimento).
14. Na perspectiva do primeiro
desdobramento, ressaltou Maritain que “o ensino da Lógica, à medida que aos
poucos se inclinava a reduzir todo o raciocínio unicamente à verificação das
relações de extensão, sofreu nos tempos modernos uma grave deformação.” Ainda
nas palavras de Maritain, podemos selecionar tal deformação do seguinte modo:
Muitos autores mais ou menos nominalistas, confundindo a extensão de um
conceito com a resolução deste numa simples coleção de indivíduos, isto é, sua
destruição pura e simples, e compreendendo, por conseguinte, de maneira
inteiramente errônea a máxima que ‘o silogismo vai do universal ao particular’,
interpretam o silogismo de um ponto de vista inteiramente coletivo; quero dizer
consideram o silogismo como consistindo em fazer passar a um ou a alguns
indivíduos um predicado verificado em todos os membros da coleção, de que estes
indivíduos fazem parte. Isto é um erro fundamental e, em realidade, a
destruição de toda Lógica; e por isto não é de se admirar que tais autores,
tendo nem mais nem menos do silogismo uma concepção tão pouco sutil,
considerando-no como uma vã tautologia ou então um círculo vicioso. (...). Em
realidade, não se trata de uma coleção de indivíduos, é a natureza universal
comunicável a estes e tomada como termo médio que dá todo o valor da inferência
silogística e que, somente ela, dá sua razão de existir. Não é do ponto de
vista de uma simples coleção de indivíduos, é do ponto de vista da essência
universal que devemos nos colocar para compreender o silogismo. Este consiste
em fazer passar a um sujeito (individual ou universal) um predicado que sabemos
ser verdadeiro da natureza universal que impõe sua lei a esse sujeito: operação
legítima e que faz progredir o conhecimento (...) (8).
15. Na perspectiva do segundo
desdobramento, por sua vez, eis o que pensamos o melhor a destacar dos escritos
de Maritain:
(...) a
Logística é alguma coisa essencialmente diferente da Lógica. Enquanto a Lógica
refere-se ao próprio ato da razão em seu progresso para a verdade, portanto à
ordem dos próprios conceitos e do pensamento, a Logística refere-se às relações
entre sinais ideográficos e portanto aos sinais como considerados como
suficientes a si mesmos, uma vez estabelecidos. Em conseqüência, a segunda
destina-se a dispensar de pensar, a evitar as operações racionais e
propriamente lógicas, tais como distinção, argumentação, etc. e a suprimir
qualquer dificuldade no raciocínio por uma álgebra, aliás excessivamente
complicada, que a inteligência bastaria aplicar. A primeira, pelo contrário,
destina-se a ensinar a pensar, a ensinar a efetuar convenientemente as
operações racionais e propriamente lógicas, tais como distinção, argumentação,
etc., e a ensinar a vencer as numerosas dificuldades do raciocínio por uma arte
(virtude intelectual) que deve aperfeiçoar intrinsecamente a própria vida da
inteligência e cooperar para a sua atividade natural (9).
16. A Logística, para
Maritain, é um “sistema de cálculo ideográfico universal” inaugurado por
Gottfried Wilhelm Leibniz e que obteve grande desenvolvimento somente a partir
do século XIX, através dos esforços de lógicistas-matemáticos ingleses e
italianos como Augustus de Morgan, George Boole, F. W. K. E. Schröder, H.
MacColl, Charles Sanders Pierce, Macfarlane, Giuseppe Peano, Bertrand Russell,
Alessandro Padoa) (10).
17. Gilbert Hottois
esclarece esta mesma distinção do seguinte modo:
Na
tradição, o pensamento domina e está em primeiro lugar; a voz, a palavra,
exprime o pensamento, e a escrita permite ficar a palavra. Na combinatória [Logística]
, a
escrita tende a ocupar o primeiro lugar, porque depois de o alfabeto dos
pensamentos ter sido fixado a ideografia, o cálculo dos pensamentos torna-se um
jogo regulado por meio de símbolos, que procede automaticamente e como que
cegamente. Leibniz falava de resto a este propósito de “pensamento cego”, ainda
que num sentido positivo: um modo de fazer que deixa de estar sumetido à
lentidão e às imprecisões do pensamento intuitivo que, naturalmente, acompanha
o discurso. (...). A escrita calculante é mais rápida, mais ágil e também mais
segura do que a inteligência pensante, e avança à sua frente (11).
18. A Leibniz, como
idealizador da Logística, Maritain não poupa críticas, precisamente pelo abuso
que aquele fez (e muitos filósofos contemporâneos ainda fazem) de proposições
puramente tautológicas, distanciando-se assim de toda “
lógica sã, isto é,
toda lógica que trabalha com os conceitos e com os objetos do pensamento, e não
apenas com palavras e com sinais, toda arte que é realmente uma arte de pensar
e não uma álgebra que dispensa de pensar” (12). Particularmente em Leibniz,
isto se faz mais “grave” para Maritain que igualmente o considera “um espírito
mais profundamente metafísico” (13). Ora, “
a determinação do sujeito como
matéria pelo predicado como forma se encontra não somente em nossa maneira de
conceber ou em nosso espírito (ordem lógica), mas também na realidade (ordem
real, física ou metafísica)” (14), o que, no entanto, parece ignorado nas
abstrações Logísticas (15).
19. Embora não desenvolvida,
crítica geral e similar foi escrita por Pascal Ide em sua obra A arte de
pensar:
Não é raro que o homem faça do ato do raciocínio uma finalidade e
esqueça que ele está a serviço da inteligência. Esse grave desvio que afasta o
espírito de sua verdadeira função e de seu desabrochar verifica-se naquele que
multiplica cálculos e as teorias e não sabe deter-se para contemplar o
verdadeiro. Em última instância, o intelectual é mais seduzido pelo
funcionamento de sua razão, por sua habilidade de encadear as demonstrações e
fazer conjecturas: é completamente o inverso dessa genuflexão interior da
inteligência que, centrada não no eu, mas na realidade extramental, apaga-se
diante de seu objeto, tornando-se este objeto. (...). Quanto ao celebral
raciocinate, ele não conhece mais, ele pensa, só isso. Aliás, por estender
excessivamente um raciocínio, não se sabe mais se ele diz a verdade. Roger
Caratini dá o exemplo de um teorema de quinze mil páginas, cuja própria
extensão desencoraja de saber se ele enuncia alguma verdade (16).
20. Muito opostamente a Maritain,
Bertrand Russell há de reclamar precisamente das concepções metafísicas de
Leibniz ou de um certo ainda vínculo seu à tradição filosófica, como a
sustentada ainda por Maritain, que não o deixaram ir muito mais além em seus
percursos lógicos e ainda o fizeram relegar estes seus estudos “assombrosamente
lógicos” ao fundo de gavetas por longos anos, mesmo depois de sua morte (17).
21. Gostaria de nos entregar
neste sentido a um recorte de exposição e comentário que o próprio Russell faz
da filosofia de Leibniz, especialmente, é claro, das transições
lógico-metafísicas que este pensador outrora realizou. É o que imediatamente se
segue.
Na maior parte
das vezes, Leibniz representa a criação como um ato livre de Deus, que requer o
exercício de sua vontade. De acordo com esta doutrina, a determinação do que
realmente existe não é afetada pela observação, mas tem de efetuar-se mercê da
bondade de Deus. À parte a bondade de Deus, que o leva a criar o melhor mundo
possível, não há, a priori, nenhuma
razão para que uma coisa deva existir de preferência a outra. Mas, às vezes, em
papéis não revelados a nenhum ser humano, há uma teoria inteiramente diferente
acerca deste ponto: por que algumas coisas existem e outras, igualmente
possíveis, não existem? Segundo esta opinião, tudo o que não existe luta por
existir, mas nem todas as coisas possíveis podem existir, porque nem todas são
“compossíveis”. Pode ser possível que A deva existir e que B também deva
existir, mas pode não ser possível que A e B existam ao mesmo tempo; neste
caso, A e B não são “compossíveis”. Duas ou mais coisas só são “compossíveis”
quando é possível a todas elas existir. (...) Leibniz emprega mesmo este
conceito como um modo de definir a existência. Diz ele: “o existente pode ser
definido como aquilo que é compatível com mais coisas do que aquilo que é
incompatível consigo mesmo.” Isto quer dizer que se A é incompatível com B,
enquanto que A é compatível com C e D e E, mas B só é compatível com F e G,
então A, mas não B, existe por definição. “O existente – diz ele – é o ser que
é compatível com a maioria das coisas.” Nesta exposição, não há referência a
Deus e, ao que parece, nenhum ato de criação. Tampouco é necessária qualquer
outra coisa senão a lógica pura para determinar o que existe. A questão de se
saber se A e B são “compossíveis” é, para Leibniz, uma questão lógica, isto é:
envolve a existência de A e B uma contradição? Segue-se daí que, na teoria, a
lógica pode decidir a questão de se saber que grupo de “compossíveis” é o
maior, e este grupo, por conseguinte existirá. Não obstante, talvez Leibniz não
tenha realmente querido significar que o que foi dito acima era uma definição
de existência. Se era apenas um critério, pode conciliar-se com suas opiniões
populares, mediante o que ele chama de “perfeição metafísica”. A perfeição
metafísica, segundo ele emprega o termo, parece significar quantidade de
existência. “É – diz ele – nada mais que a magnitude da realidade positiva
estritamente entendida.” Sempre afirma que Deus criou tanto quanto possível;
esta é uma das razões para se rejeitar o vácuo. (...). Leibniz, na sua maneira
de pensar privada, é o melhor exemplo de filósofo que usa a lógica para a
metafísica. Este tipo de filosofia começa com Parmênides e é levado mais avante
por Platão, ao empregar a teoria das idéias para provar várias proposições
extralógicas. Spinoza pertence a esse mesmo tipo, o mesmo acontecendo com
Hegel. Mas nenhum deles é tão preciso como Leibniz, ao tirar deduções da
sintaxe e aplicá-las ao mundo real. Esta classe de argumentação caiu em
descrédito, devido ao desenvolvimento do empirismo. (...) não há dúvidas de que
as inferências encontradas em Leibniz e em outros filósofos a
priori não são válidas, já que todas elas são devidas a
uma lógica defeituosa. A lógica sujeito-predicado, que todos os filósofos deste
tipo aceitaram no passado, ou ignora completamente as relações, ou apresenta
argumentos falazes para provar que as relações são irreais. Leibniz é culpado
de uma contradição especial, ao combinar a lógica sujeito-predicado com o
pluralismo, pois a proposição “há muitas mônadas” não é da forma da do
sujeito-predicado. Para ser coerente, um filósofo que acredita que todas as
proposições devem ser desta forma deveria ser um monista, como Spinoza (18).
22. A Platão é atribuída a
âncora metafísica pela qual, por séculos, o pensamento (logos)
ocidental foi se construindo. Diante da necessidade de situar-se neste mundo
inegavelmente múltiplo e transitório, de bom grado os homens nele se fixaram
através da “Teoria das Idéias” deste filósofo grego. Por força do desejo de uma
“segurança existencial”, este monismo da “natureza” também açambarcou e conteve
a difusão do relativismo cultural sofístico.
23. A Aristóteles coube
desenvolver uma “gramática” do pensamento, a Lógica, correspondente, em última
instância, a este “sistema universal” platônico. Apesar de ser, somente na
modernidade, um dos grandes responsáveis pela crise desta Lógica de fundamentos
metafísicos, Immanuel Kant, nascido somente oito anos após a morte de Leibniz,
escreverá:
(...) a Lógica não ganhou muito em conteúdo desde os tempos de
Aristóteles e isso é uma coisa de que ela é por natureza incapaz. (...). Poucas
ciências há capazes de atingir uma situação estável, onde não sofram mais
alterações. Entre essas contam-se a Lógica e a Metafísica. Aristóteles não
deixou de lado nenhum aspecto do entendimento; nisto somos apenas mais exatos,
metódicos e ordenados. (...). Entre os filósofos modernos há dois que deram um
impulso à Lógica geral, Leibniz e Wolff (19).
24. Leibniz se encontra,
verdadeiramente, filiado a esta tradição. Não obstante a origem da crise
metafísica date-se muito antes da contemporaneidade (já falamos aqui do
“nominalismo” e do empirismo que, ainda na Idade Moderna, culminou com David
Hume, coetâneo de Kant), somente no decorrer do século XIX foi ela denunciada
com toda consciência, através, por exemplo, do pensamento de Friedrich
Nietzsche.
25. Com isto, a Lógica voltou-se
para a multiplicidade dos fatos, dos quais as Novas Ciências fizeram seus
objetos e, em momentos de grande otimismo, creram tê-los reduzido a constantes
(suas teorias), à luz das quais, por sua vez, desenvolviam os seus programas de
intervenção no mundo. Neste sentido, o ideal do calculus ratiocinator
leibniziano se torna atraente, se entendido – tomando as palavras de Gilbert
Hottois – como o estabelecimento de “técnicas de raciocínio automatizáveis,
mecanizáveis, por forma a poder substituir o pensamento, a intuição, por um
cálculo sobre símbolos, mais seguro e mais rápido” (20).
26. Desta volta aos fatos do mundo, o Tractatus
logico-philosophicus, obra de Ludwig Wittgenstein, foi a principal
expressão deste movimento. Isto já nos fica suficientemente claro pelas quatro
primeiras das sete proposições que o sustentam: “o mundo é tudo o que é o
caso”; “o que é o caso, o fato, é a existência de estados de coisas”; “a
figuração lógica dos fatos é o pensamento”; “o pensamento é a proposição com
sentido” (21). Tornou-se, por isto, a “gramática” dos neo-empiristas ou
neopositivistas, embora não ter o seu próprio autor tardado em colher os
resultados maiores da crise metafísica contemporânea e em reconhecer os limites
da resposta dada à mesma pela postura lógico-empirista.
27. Tal sensibilidade
wittgensteiniana encontra-se melhor manifestada em outros textos seus,
postumamente publicados sob o título
Investigações filosóficas,
particularmente quando elabora uma teoria do significado das proposições
assentada no seu “uso”. Noutros termos, as “significações” são adquiridas
precisamente pelo seu “treino”, “ensino” ou “uso” intensivo – estes são os
termos que predominantemente o próprio Wittgenstein faz constar nesta sua obra.
E os “jogos de linguagem”, dos quais podemos “usar” ou freqüentar ou perfazer
ou partilhar, são tantos quantos grupos humanos existentes: “representar uma
linguagem significa representar-se uma forma de vida” (22).
28. Diferentes desafios
espácio-temporais que o mundo colocava aos grupos humanos redundaram em
diferentes desafios de organização para sua sobrevivência que foram sendo
respondidas em conformidade com as disposições disto que geralmente tomamos
como o pensamento humano (respostas pretensamente universais a diferentes
condições concretas de vida). Diferentes culturas humanas foram assim se
constituindo e as diferentes manifestações e instituições sociais foram se
sustentando umas pelas outras, capazes assim de se mostrarem como que uma só
peça ou “continuum”, no esforço de um “melhor dos mundos possíveis” aos
desafios enfrentados. Estes arranjos se confirmam nos adjetivos assumidos pelas
diferentes sociologias ou antropologias: “dialética”, “evolucionista”,
“funcionalista”, “estruturalista”...
29. Esses escopos sociais
históricos podem ser chamados “naturais” se confrontados aos escopos sociais
estritamente “teóricos”, que vão desde “a república” de Platão até o “modo de
produção comunista” de Marx, mesmo que estes seus progenitores os pretendam
“reais”.
30. Numa abordagem estritamente
“simbólica”, o único efetivo é o que comportou (e comporta) o maior número de
“compossíveis”... Isto poderia responder ao fenômeno político que assombrou
Alexis de Tocqueville: um movimento universal a favor da “democracia”.
31. Assim também o “simbólico” é
prospectivo ao “melhor dos mundos possíveis” e a uma “harmonia”, ainda que por
antíteses e sínteses como propôs-nos Georg-Wilhelm Friedrich Hegel.

32. Não obstante todas essas
representações, algumas mal disfarçam, como se vê, a sua disposição ou
tendência ao “universal” e “natural”. Mesmo a lógica indutiva, tão
mecanicamente aplicada no campo das ciências naturais, não passaria de um trânsito
invertido de inferências dedutivas do mundo ou das leis da natureza que ao
universo assegurariam ciclos constantes, breves ou longos (uma idéia incapaz de
esconder o seu teor altamente metafísico). Lembremo-nos aqui de John Stuart
Mill e de Pierre-Simon Laplace em duas de suas expressões mais consagradas,
respectivamente: “que o curso da natureza é uniforme constitui o princípio
fundamental, o axioma da indução” e que “um intelecto que (...) conhecesse
todas as forças (...) e todas as posições de todos os itens dos quais a
natureza é composta (...) compreenderia numa única fórmula os movimentos dos
maiores corpos do universo e os do menor átomo”. Sem tais otimismos metafísicos
(relativos à totalidade da existência), não se pode escapar às ofensivas já deixadas
por David Hume e atualizadas por Karl Popper.

33. É tal disposição que a
filosofia leibniziana assume, embora alguns possam chamar essa moderação de
contradição. Antes que a criatividade humana possa elaborar sistemas formais e
logísticos, por um lado, temos a intuição de estarmos mergulhados num dado
“cosmos” e não num “caos” ou numa ordem apenas imaginária. E para que seja
possível alinhavar vários “bolsões de sentido”, como é o caso, Leibniz
naturalizou tal procedimento humano na figura de um Deus que, antes, assim
procedeu. Vemos como que Deus diante de vários mundos possíveis, assim como o
homem diante de vários sistemas logísticos. Dentre todos esses sistemas
virtuais humanos, tendemos àquele que mais tem a capacidade de se e nos
aproximar do “real”. E, para não nos tornarmos inócuos nessa tarefa, sendo
vítimas de uma “ausência de princípio” ou de uma espécie de “regresso ao
infinito” (tomemos, aqui, antes de tudo, as conseqüências existenciais ou
práticas disso), o “real”, conforme a teoria do “melhor dos mundos possíveis”
de Leibniz, é o mundo atual (o que comporta mais compossíveis), escolhido por
Deus para ser criado dentre os vários outros (apenas virtuais), mas por ele
igualmente contemplados, uma metafísica que não nos afasta da dita realidade,
mas que, muito pelo contrário, nô-la avaliza e nos sustenta.
34. Longe, pois, das logísticas
ou do simplesmente “virtual”, podemos agora compreender melhor as seguintes
palavras de Maritain:
(...) a Lógica
é uma arte feita para servir à inteligência e não para substituí-la: a Lógica
formal deve ensinar modos de proceder que não acarretem perigo algum do lado da
forma, isto é, da disposição dos termos, que não enganem a inteligência, com a
condição de que esta faça obra de pensamento, com a condição de que o espírito
se mova realmente; ela não tem como finalidade confiar-nos fórmulas que sejam
suficientes a si próprias para se desenvolverem, uma máquina algorítmica que
progride sozinha, permanecendo a inteligência em repouso ou exercendo
influência só para vigiar a marcha (23).
Máquina de Calcular de Leibniz
--------
(*) Este artigo, publicado na Rhema (Revista de Filosofia e Teologia) com o título "Lógica e logística: possibilidade de uma distinção entre o real e o virtual", sofreu pequenas adaptações para sua publicação neste Blog.
(23) MARITAIN, Jacques. Elementos de filosofia II:
a ordem dos conceitos – lógica menor (lógica formal). Op. cit. p. 257.