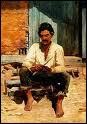Rodrigo Rodrigues Alvim
01. Não obstante houvesse, no início da
modernidade, diferentes filósofos em disputa quanto à instância de garantia
última do conhecimento, sobressaindo, de um lado, os racionalistas e, por
outro, os empiristas, já, no século XVIII, os pensadores denominados
iluministas tenderam a considerar o conhecimento como uma conciliação dessas
duas capacidades humanas: de razão e de experiência.

02. A sistematização oferecida por Immanuel Kant à
tese de que o conhecimento (ciência) é resultado do esforço conjunto das
atividades racionais e empíricas marcou a filosofia, senão toda a cultura
ocidental, sendo, para alguns, um divisor de águas entre a modernidade e a
contemporaneidade. De fato, foi um pensamento que permitiu nascer um novo
cenário na filosofia, promovido, por sua vez, por filósofos de grande
envergadura, como aqueles que elencam o movimento denominado Idealismo Alemão e
que, como já se observa nessa expressão, coloca definitivamente os germânicos
no rol dos grandes pensadores ocidentais.

03. Lia-se, no contexto de Kant, respeitáveis
filósofos em defesa da fundamentação empírica na elaboração do conhecimento,
capaz de não deixar com que este terminasse em vãs especulações, tal qual já
avaliavam muitas das chamadas “querelas medievais”, que pressupunham as mais
fantasiosas entidades etéreas para justificar uma proposição por uma prévia
ideia geral do mundo. Destacamos aqui, para exemplificar o empirismo, a obra Ensaios sobre o conhecimento humano, de
John Locke, que recupera a tese aristotélica de que “nada há no intelecto
humano que não tenha passado primeiramente pelos sentidos”, ou seja, sem os
dados sensoriais, sem a experiência do mundo, a razão humana é uma “tabula rasa” (uma tábua lisa),
literalmente sem qualquer marca ou expressão, um papel em branco, um vazio,
simplesmente inexistente.
04. Havia, no extremo oposto, contudo, obras de
filósofos que defendiam que os dados instáveis e até mesmo contraditórios
fornecidos pelos sentidos humanos acerca do mundo não são capazes de justificar
as certezas que a ciência considera possuir. Tais certezas – sugerem – são, de
algum modo, fornecidas pelo próprio pensamento humano ao pensá-las. Como
contraponto ao empirismo, podemos destacar a obra, de Gottfried Wilhelm
Leibniz, Novos ensaios sobre o conhecimento
humano, na qual esse autor repete Locke, no sentido de que “nada há no
intelecto humano que não tenha passado primeiramente pelos sentidos”, mas
acrescenta, em seguida, “a não ser o
próprio intelecto”. Este adendo firma a posição racionalista de Leibniz: o
intelecto humano, antes de toda e qualquer experiência, não é uma “tabula rasa” ou um vazio como presumiam
os empiristas. Porque humano, tal intelecto devia ser algo precisamente
determinado ao modo de um intelecto humano, de tal maneira que o dado empírico
é compreendido à luz dessa predeterminação ao modo, para Leibniz, de “ideias
virtuais”.
05. Nesse contexto, provocado sobretudo pela obra
de um empirista escocês chamado David Hume, que, ao combater quaisquer
pressupostos metafísicos dos racionalistas, depara-se com o ceticismo, Kant
propõe examinar se há razão humana antes de toda e qualquer experiência do
mundo. Assim, importa a Kant que a razão se esforce, antes de atuar
criticamente sobre os dados de experiência das coisas, para tomar-se a si mesma
como alvo primeiro de sua própria crítica. Essa descentralização ou
deslocamento, que vai do exercício do pensamento humano sobre as coisas para o
ato do pensamento pensar a si próprio, Kant o compara à Revolução Copernicana
que descentralizou a Terra e colocou o Sol como eixo do Cosmos. E é
precisamente essa “Revolução Copernicana Kantiana” que justificará o título da
mais famosa obra de Kant, Crítica da
razão pura, entendendo que crítica é justamente prerrogativa da razão.
Enfim, esta razão se torna centro de seu interesse, quanto àquilo que ela é
necessariamente e independente, pois, de tudo mais que se lhe possa agregar,
tratando-se, dessa forma, da razão “pura”, “a
priori” ou, como preferirá Kant dizer, “transcendental”.

06. Se, como disse Kant, foi Hume que o despertou
do sono do dogmatismo, o que se seguiu foi a tese kantiana contra Hume, de que
a rotina sobre as coisas que consideramos assim conhecer não é condicionada por
nossos hábitos adquiridos de repetidas experiências e projetadas, sob a forma
de crença e expectativa, em relação às coisas e aos acontecimentos por vir, mas é-nos assegurada, isto sim, por determinações originalmente constitutivas
do que denominamos “razão” – formas e categorias “a priori”. O esforço de Kant é, portanto, como que esvaziar a razão
de tudo o que lhe é estranho e que ela absorveu da experiência das coisas do
mundo, para, por fim, avaliar o que restou e do qual não é possível se
desfazer, sem que igualmente a razão se desfaça de si mesma. O que assim
soçobra é acidental à razão, restando-lhe apenas o que lhe é constitutivo.
Porém, o que lhe é constitutivo, sem mais, só pode ser pensado, mas não
propriamente conhecido, conforme diz-nos Kant, porque o conhecimento exige,
além dessa forma racional apriorística, a matéria da experiência, na qual
aquela possa se aplicar e moldar. Curiosamente, Kant responde metafisicamente a
impossibilidade de um conhecimento ou ciência metafísica, ou seja, que despreze
a experiência do mundo, mas também considera inaceitável a defesa de um
conhecimento ou ciência que se constitua de experiências que se arranjem por si
sós e que se depositem num receptáculo mental humano completamente passivo e
inoperante. Escreveu ele, ao dar a público a sua Crítica da razão pura: “O conhecimento começa com a experiência,
mas nem todo ele advém da experiência.”
07. Desse modo compreendido, percebe-se que Kant
elaborou uma teoria do conhecimento efetivamente incapaz de dissociar o sujeito
epistêmico da coisa que pretende conhecer. O resultado dessa relação, para ele,
é o conhecimento de um objeto. Em outros termos, o que se conhece é o que a
coisa é ao modo das predeterminações ou constituição inata do que denominamos
capacidade racional do ser humano. Não é, por conseguinte, a compreensão da
coisa em si mesma (“noumenon”), porém
daquilo que a coisa é para nós (“fe-noumenon”).
Claramente, para Kant, o que tomamos por mundo é representação humana.
Entretanto, não é representação qualquer, mas assentada, de um lado, em formas
e categorias precisas da mente humana e, por outro lado, na coisa tal e qual.
Nada além disso, de maneira que Kant condena qualquer elemento passional ou
tendência emotiva entre esses extremos e capaz de variar e comprometer a
objetividade. Assim, outra curiosidade no pensamento kantiano: o conhecimento é
humano, é subjetivo, não impossibilitando, contudo, vencer o relativismo
epistemológico; ao contrário, porque somos detentores de mesma capacidade
racional, formalmente, e enquanto estamos diante das mesmas coisas, sem mais,
conhecemo-las do mesmo modo.
08. O aparato racional inato que garante o mesmo “modus operandi” no trato das coisas do
mundo, permitindo, assim, conhecê-las à maneira humana, é constituído por duas
capacidades em nós: a faculdade de sensibilidade e a faculdade de entendimento.

09. Para Kant, as coisas sensíveis se dispõem, se
organizam, se arranjam primeiramente (por nós, em nós e para nós) por duas
formas que nos são “a priori”: o
espaço e o tempo. Logo, contra o senso comum, a filosofia kantiana sustenta que
espaço e tempo talvez não sejam nada independentemente de nós ou fora de nós.
Não são, pois, possivelmente, propriedades ou predicados do mundo, mas são,
certamente, formas pelas quais temos a sensação assim mesmo como nos ocorre:
todo sensível se distribui no espaço e no tempo. Tal defesa não afronta apenas
o senso vulgar, mas afronta igualmente a respeitada física moderna newtoniana,
mesmo que seja esta última uma grande inspiradora do Iluminismo, movimento
intelectual do qual Kant faz parte: se Isaac Newton considerou espaço e tempo
como atributos universais da natureza (“physis”),
Kant confirma tal universalidade, mas substituindo, paradoxalmente, seu
estatuto físico por um estatuto psíquico, como homens que, possuidores de
retinas róseas, sem que o saibam, apreendem um mundo rosado e sempre rosado,
como rosado fosse todo o mundo.
10. Se as coisas nos são assim sensíveis (âmbito
que Kant denominará “estética”), o que já implica alguma maneira humana de
composição, sobre elas podem atuar as categorias ou conceitos, também “a priori”, da faculdade do entendimento
humano (âmbito que, por seu turno, Kant chamará de “analítica”). São 12 (doze)
essas categorias, que podem ser resumidas em 4 (quatro):
I
QUANTIDADE
|
II
QUALIDADE
|
III
RELAÇÃO
|
IV
MODO
|
1) Totalidade
2) Pluralidade
3) Unidade
|
1) Realidade
2) Negação
3) Limitação
|
1) Substância
2) Causalidade
3) Reciprocidade
|
1) Possibilidade
2) Existência
3) Necessidade
|
11. Entendemos as coisas (damo-las-nos) segundo
tais categorias – o que não quer dizer que são tais coisas em si mesmas assim
como nós as entendemos. Por isso, ajuizamos sobre as coisas segundo
essas categorias, o que nos permite sobrepor-lhes o seguinte quadro de juízos:
1) Universais
2) Particulares
3) Singular
|
1) Afirmativos
2) Negativos
3) Indefinidos
|
1) Categóricos
2) Hipotéticos
3) Disjuntivos
|
1) Problemáticos
2) Assertóricos
3) Apodíticos
|
12. Exemplificando cada juízo:
1) Todo X é Y
2) Algum X é Y
3) Este X é Y
|
1) X é Y
2) X não é Y
3) X é não-Y
|
1) X é Y
2) Se X é Y e Y é
Z, então X é Z
3) X é Y ou X é Z
|
1) É possível que X
é Y
2) De fato, X é Y
3) Necessariamente,
X é Y
|
13. Isto responde, ao modo kantiano, à pergunta de
David Hume de como podemos considerar conexões habituais (advindas das simples
experiências corriqueiras e afins, mas contingentes) como conexões necessárias,
o que para Hume é logicamente impossível, ilusório e sustentado na precariedade
psicológica do costume e da crença de que o futuro dar-se-á tal e qual o
passado. Contudo, para compreendermos melhor isso, precisamos recuperar as
considerações que preliminarmente Kant faz acerca dos juízos.
14. Segundo a tradição, que Kant adota, há juízos
acerca das coisas que são “analíticos” ou “sintéticos”, bem como “a priori” ou “a posteriori”.

15. Se ajuízo que “o corpo é extenso”, realizo um
juízo analítico, pois, ao analisar o que faz de um corpo exatamente corpo,
entendo que é tudo aquilo que necessariamente o constitui ou tudo aquilo sem o
que o corpo deixa de ser o que é: corpo! Ora, ao enumerar esses predicados
essenciais a todo e qualquer corpo, vejo ali a “extensão”. Não há como pensar
corpo que já não seja algo extenso e de tal maneira que consideramos que todo
corpo ocupa um lugar no espaço. Logo, caso eu ouça alguém gritando “olha, um
corpo”, sei que este corpo, embora dele eu não tenha experiência, é
obrigatoriamente algo extenso ou, do contrário, não é um corpo. Daí que tal predicado não é
um acidente ao corpo, mas um atributo do corpo em geral, universal. Podemos,
então, ousar dizer não somente que “o corpo é extenso”, mas que “todo corpo é
extenso”, os já dados à nossa sensação ou não. Por isso mesmo, todo juízo
analítico é também “a priori”, quero
dizer, pode ser considerado antes que dele se tenha experiência, como acabamos
de fazer no exemplo dado. Trata-se de um juízo estritamente conceitual,
racional.
16. Se ajuízo que “o corpo é móvel”, realizo um
juízo sintético, pois, ao analisar o que faz de um corpo exatamente corpo,
entendo que é tudo aquilo que necessariamente o constitui ou tudo aquilo sem o
que o corpo deixa de ser o que é: corpo! Ora, ao enumerar esses predicados
essenciais a todo e qualquer corpo, não vejo ali a “mobilidade”. Há como pensar
corpo que seja algo “móvel” ou “não móvel”. Logo, caso eu ouça alguém gritando “olha,
um corpo”, não sei dizer, sem a experiência do mesmo, se ele está em movimento
ou não. Daí o predicado “móvel” (poderia se “imóvel”) é um acidente ao corpo, um
atributo que lhe é acessório, que lhe é associado ou sintetizado
contingentemente. Por isso mesmo, todo juízo sintético é também “a posteriori”, quero dizer, só posso considerá-lo
após dele ter experiência. Trata-se de um juízo imediato e sensível. Neste
limite da minha experiência (e acompanhando o exemplo dado), só me cabe dizer
que “este corpo é móvel” ou (porque conceitualmente pode deixar de sê-lo ou de
outro corpo não o ser) que “algum (ou pelo menos um) corpo é móvel”.
17. Daí, podemos sumamente dizer que para a
tradição filosófica havia dois tipos de juízos: os juízos analíticos “a priori” e os juízos sintéticos “a posteriori”. Isso fez com que, por
suas características opostas, duas vertentes de pensamento se digladiassem,
respectivamente: o racionalismo e o empirismo.
18. Os juízos analíticos “a priori” apresentavam a vantagem de serem enunciados
indiscutíveis, donde um René Descartes pudesse, então, pretender erguer o
edifício da ciência logicamente rigorosa. Todavia, esses juízos foram acusados
de ter a sua certeza calcada numa espécie de redundância, como a tautologia A =
A, o que, se por um lado é evidente, por outro lado é praticamente inútil,
sendo geralmente chamados de juízos “metafísicos”.
19. Os juízos sintéticos “a posteriori” apresentavam a vantagem do conceito predicado
acrescentar algo novo ao conceito sujeito da proposição, o que lhe é assegurado,segundo Francis Bacon, pela experiência do mundo. Porém, o próprio Bacon já
compreendia o defeito lógico da indução e que, em tese, produzia prejuízos à
garantia técnica no poder de intervenção desse tipo de saber.

20. Foi nesse contexto, pouco promissor, que Kant
ousou elaborar uma questão que, se não fosse imediatamente absurda à tradição
filosófica, lhe seria de fácil resposta negativa. Perguntou ele sobre a
possibilidade de um tipo de juízo que preservasse somente as vantagens de ambos
os juízos tradicionais, ao qual chamou de “juízo sintético ‘a priori’”, ou seja, uma proposição pela
qual houvesse um incremento do saber (pois, sendo sintético, o conceito
predicado acrescentaria algo novo ao conceito sujeito), mas, simultaneamente,
este vínculo fosse necessário e não contingente. Surpreendentemente, a resposta
que o próprio Kant deu à sua questão não foi negativa. Kant defendeu que há
esse tipo de juízo, que é ele o único que se pode fielmente chamar de
“conhecimento”, que ele implica uma feliz conciliação de razão e experiência,
que é por ele que a ciência moderna se constrói. Por isso mesmo, as teorias
científicas se pretendem respaldadas pela experiência do mundo, ao mesmo tempo
em que se pretendem universais.
21. Quando dizemos, por exemplo, que “a reta é a
menor distância entre dois pontos”, percebemos que o conceito predicado é
quantitativo (pois expressa uma medida), mas que o conceito sujeito não é
quantitativo, mas qualitativo (tanto que estudamos a reta ao lado de outras
ideias como a curva e a quebra – que não se distinguem entre si pelas medidas
que têm; aliás, podemos até pensá-las tendo a mesma medida e nem, por isso, são
idênticas). Ora, se assim é, então também é inegável que o predicado
(quantitativo) acrescenta algo novo ao sujeito (qualitativo). No entanto, tal
predicado não é acidental ao sujeito, mas lhe é necessário e universal.
22. Essa novidade, Kant a apresenta como possível,
porque, embora possa o homem incrementar o saber através de sua capacidade de
experiência do mundo, o modo pelo qual tal material que daí resulta é
articulado são segundo as formas e as categorias inatas a todo homem e as quais
chamamos, enfim, de razão humana, conforme elucidamos antes. Para Kant, somente
esse produto pode ser denominado “conhecimento”. Escreveu ele, nesse
sentido, que “conceitos [categorias] sem intuições [intuições sensíveis,
matéria da experiência] são vazios e intuições sem conceitos são cegos”.
23. Essa teoria do conhecimento é, para Kant, um despertar
do sono dogmático da filosofia metafísica (avessa à experiência do mundo para a
construção de um pensar rigoroso), do qual ele mesmo se disse, certa vez,
vítima, mas não deixou de ser também um despertar para os que fossem vítimas de
um empirismo ingênuo que partia do pressuposto de que as coisas se arranjavam
por si mesmas e se davam como tal a um sujeito do conhecimento que fosse “tabula rasa”. Para Kant, o sujeito
cognoscente tem que se desfazer de todos os sentimentos, emoções, paixões e
tendências passionais que comprometerão a lisura de sua investigação
científica, mas não tem como se desfazer da precondição correspondente ao seu
aparato psíquico e racional, constitutivo de todo ser humano (por ser
precisamente isso que o faz humano). É esta precondição que Kant chama de
“transcendental”.

24. Apesar disso tudo, Kant termina a sua obra Crítica da razão pura inquieto com uma
questão que será o fio condutor para a sua Crítica
da razão prática. Kant considera a ciência como produto da modernidade,
como produto recente da humanidade. Ao contrário, a metafísica é algo à qual a
humanidade se dedica há muito mais tempo. Ora, se a metafísica não alcança o
estatuto de ciência do mundo (defesa de Kant), qual é o estatuto da metafísica,
que a fez produto cultural secular do Ocidente? Oportunamente, podemos
tratar dessa questão aqui, dando continuidade a este artigo, que, por ora,
pretendeu apenas abordar a teoria do conhecimento do pensamento kantiano.
Contudo, é instigante já adiantar que, para Kant, a metafísica não responde aos
apelos epistemológicos que temos (e conforme vimos), mas aos nossos apelos
éticos, isto é, aos desafios de como devemos nos conduzir na vida.